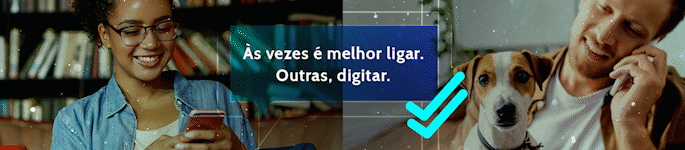Portugal fortalece laços econômicos com a China: um novo ciclo de crescimento
Com a prática, médicos aprendem a tratar covid e salvam mais vidas nas UTIs
Quando o novo coronavírus chegou ao Brasil, em fevereiro, os médicos se viram diante de uma doença nova, de alto grau de contágio e sem protocolos de tratamento. Era um desafio inédito para a geração de profissionais de saúde no país, que nunca enfrentou um problema dessa magnitude.
Passados cinco meses das primeiras internações por covid-19 no Brasil, eles avaliam que, mesmo sem vacina ou uma medicação que elimine o vírus no corpo infectado, a prática no tratamento elevou as chances de sobrevivência de casos graves graças a procedimentos e drogas que melhoram a resposta do corpo às consequências da doença.
Hoje, segundo dados do painel de dados “UTIs Brasileiras”, a mortalidade de pacientes que passam por leito de terapia intensiva é de 34%. Inicialmente, esse índice chegava a superar 50%.
“Hoje a gente conhece melhor o que está tratando. Quando a doença chegou para nós, era uma doença nova; tentou-se utilizar conhecimento de outras doenças, mas vimos logo que havia mais coisas”, conta Marcos Galindo, da Comissão de Ética e Defesa Profissional da AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira).
Um começo de incertezas
Ele lembra que no começo havia um “pânico”, não só entre as pessoas leigas, mas entre os próprios profissionais de saúde —que sabiam do risco elevado de contaminação. Com o tempo, dúvidas foram ganhando respostas, e a tensão foi sendo reduzida.
Logo no início, lembra Galindo, chamava a atenção a rapidez com que a covid-19 fazia formas graves em pacientes. “A gente foi vendo que eles tinham muita alteração respiratória, faziam muita insuficiência, eram muitos pacientes graves: faziam distúrbio de coagulação de sangue, com a coagulação exagerada; faziam muita lesão renal, precisando de hemodiálise; e tem muito acometimento cardiovascular. Eram pacientes que tinham disfunções orgânicas múltiplas. Ou seja, a chance que a gente tem de conseguir fazer com que ele sobreviva é um suporte em UTI, e o mais precoce possível: na hora que começam a aparecer as disfunções é preciso iniciar o tratamento”, completa.
Segundo ele, os médicos perceberam que a covid-19 se comportava no organismo como uma sepse, mas com uma diferença: sem remédio contra o agente causador. Isso foi um desafio a ser vencido. “A gente já está acostumado a tratar sepse, mas quando ela é bacteriana, por exemplo, a gente tem o antibiótico, que mata bactéria e acaba o fator que desencadeia o problema”, afirma.
No caso da covid, a gente não tem nenhuma medicação que mate, tem de tratar as consequências.
Experiência na prática
Assim como Galindo, todos os médicos ouvidos por VivaBem corroboram que não viram qualquer droga atenuar a ação do vírus no corpo. “Todas as medicações que foram testadas nos pacientes com infecção moderada ou grave, não tivemos nada com comprovação de eficiência, como a cloroquina ou a ivermectina, por exemplo. Nenhuma mudou o desfecho de mortalidade”, diz.
Em meio a tantos quadros graves, e sem antivirais eficientes, os médicos ainda precisaram montar estratégias para tratar os problemas secundários que surgiam nos pacientes. “Com essa agressão que o corpo sofre vinham outras infecções por bactéria e outras na corrente sanguínea e urinária. A gente também teve que melhorar as estratégias para prevenir essas infecções. Isso foi extremamente importante para melhorar os pacientes”, afirma.
Nesse período, Galindo afirma que foi preciso ajustar a forma como os pacientes eram tratados nas UTIs, e um ponto era crucial: ajustar a respiração. “O suporte respiratório que a gente fazia teve de receber algumas adaptações, não era exatamente igual ao que fazíamos antes: tivemos de aprender a ventilar melhor. Precisou fazer muito o uso da posição prona, e começou a perceber os resultados mesmo em pacientes não intubados. A gente começou a aplicar, e vimos como ajudava muito a melhorar a oxigenação e evitar a intubação”, explica.
Percepção sobre o respirador mudou
Segundo Moacyr Silva Júnior, infectologista do serviço de controle de infecção hospitalar e da UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, a definição do momento de usar uma ventilação foi um ponto importante.
“No começo, ia para o respirador logo no começo por risco de —nas próximas horas— fadigar e precisar de ventilação. A gente não sabia os fatores de prognóstico, mas já está mais claro, não é ideal essa medida”, afirma.
Um dado atual do projeto “UTIs Brasileiras” mostra que 48,5% dos casos precisam de ventilação mecânica. Essa taxa, no início da pandemia, chegava aos 60%. Diante dos resultados negativos de pacientes intubados, os médicos começaram a tentar outras formas de dar suporte aos doentes graves. Saiba mais aqui.
Texto: Carlos Madeiro/UOL/Colaboração para VivaBem, em Maceió